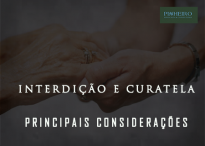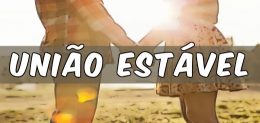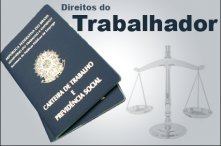1. Introdução
Este artigo apontará quais são as verbas rescisórias a serem recebidas após a rescisão. Enumeramos as possibilidades de rescisão: a) por iniciativa do empregador; b) com e sem justa causa; c) por iniciativa do empregado (pedido de demissão).
O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT – é o instrumento de quitação das verbas rescisórias. Neste documento há a descrição do que o trabalhador tem a receber. No entanto, alguns destes trabalhadores não possuem conhecimento suficiente sobre o tema, para poder identificar equívocos ou omissões, que os prejudicam financeiramente.
As verbas rescisórias variam, conforme o tempo que o trabalhador exerceu suas atividades para o empregador e o motivo da rescisão. Assim, se o empregado tinha mais ou menos de 1 ano de trabalho naquela empresa e se o empregado foi demitido ou pediu demissão.
Se o empregado constatar que houve irregularidade do pagamento de qualquer direito, tem ele a Justiça do Trabalho para fazer tal reclamação.
Vejamos os principais pontos:
2. Demissão por decisão do empregador – SEM justa causa
2.1. Período superior a 1 ano:
I – Saldo de salário;
II – Aviso prévio
III – 13º salário proporcional
IV – Férias vencidas (caso haja)
V – 1/3 sobre as férias vencidas
VI – Férias proporcionais
VII – 1/3 sobre as férias proporcionais
VIII – FGTS +40%
2.2. Período inferior a 1 ano:
I – Saldo de salário;
II – Aviso prévio
III – 13º salário proporcional
IV – Férias proporcionais
V – 1/3 sobre as férias proporcionais
VI – FGTS +40%
3. Pedido de demissão
3.1. Período superior a 1 ano:
I – Saldo de salário;
II – 13º salário proporcional
III – Férias vencidas (caso haja)
IV – 1/3 sobre as férias vencidas
V – Férias proporcionais
VI – 1/3 sobre as férias proporcionais
3.2. Período inferior a 1 ano:
I – Saldo de salário;
II – 13º salário proporcional
III – Férias proporcionais
IV – 1/3 sobre as férias proporcionais
4. Assistência Sindical
O pedido de demissão firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço SOMENTE terá validade se houver a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
5. Demissão por JUSTA CAUSA
5.1. Período superior a 1 ano
I – Saldo de salário;
II – Férias vencidas (caso haja)
III – 1/3 sobre as férias vencidas
5.2. Período inferior a 1 ano (com justa causa)
I – Saldo de salário
6. Considerações importantes
A Justa Causa pode ser questionada na Justiça do Trabalho. Por vezes, a alegação de justa causa é arbitrária e injusta, objetivando lesar os direitos trabalhistas.
Logo, o trabalhador pode pleitear perante a Justiça do Trabalho TODOS seus direitos, como verbas rescisórias, eventuais horas extras não pagas, FGTS, seguro-desemprego etc.
Após a rescisão do contrato de trabalho, o empregado deve obedecer aos prazos estipulados pela CLT. O não cumprimento dos prazos deve ser revertido em multa e indenizações ao empregado.
7. Seguro-desemprego
O Seguro-Desemprego, cumpridos os requisitos, pode ser requerido pelo trabalhador dispensado sem justa causa.
Os valores do Seguro Desemprego podem ser retirados em qualquer agência da CAIXA ou nos outros meios fornecidos pela instituição. Há facilidades aos trabalhadores que possuem o Cartão do Cidadão. São necessários: Requerimento do Seguro-Desemprego – RSD e Comunicação de Dispensa – CD.
8. FGTS
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF
Em até 5 dias úteis, com a documentação exigida, o trabalhador poderá sacar o FGTS.
9. Verbas Rescisórias
Na rescisão, as horas extras que integram a base de cálculo podem ser acrescidas com a integração de adicionais, como: periculosidade, insalubridade e outros. Este aumento é significativo ao trabalhador, pois todas as verbas rescisórias como 13º, FGTS, multas, SERÃO AUMENTADAS, com a base de cálculo composta de horas extras e adicionais.
Por fim, o empregado deve observar se recebeu todos os valores devidos no momento da rescisão. Necessita-se de atenção nos casos de:
10. Horas extras
A remuneração do serviço extraordinário, desde a promulgação da Constituição Federal/1988, que deverá constar, obrigatoriamente, do acordo, convenção ou sentença normativa, será, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) superior à da hora normal.
10.1. Intervalo para refeição.
O intervalo para refeição não pode ser reduzido, caso seja, o trabalhador pode pleitear na Justiça do Trabalho as horas extras prestadas, além de indenização.
10.2. Horas extras noturnas
Dessa forma a legislação definiu que às 7 (sete) horas noturnas trabalhadas equivalem a 8 (horas). Nesse caso um trabalhador só pode ter mais 1 (uma) hora acrescida à sua jornada, visando o período para descanso ou refeição.
11. Domingos e Feriados
O empregado é contratado para trabalhar no período comum – segunda-feira a sexta-feira – porém por necessidades especiais o empregador convoca-o a trabalhar no domingo ou feriado. Em razão do fato o empregado passa a ter direito a um adicional especial de 100% sobre o valor da hora comum.
Se o trabalhador atuou em atividades que envolviam agentes nocivos à saúde ou perigo deve receber o adicional de periculosidade ou insalubridade, conforme os requisitos na Norma Regulamentar.
Alguns trabalhadores tem o direito a trabalhar em um período INERIOR às 44 horas semanais.
São exemplos: bancários e telefonistas que tem como período de trabalho apenas 6 horas diárias. Se esses trabalhadores ultrapassam esse limite, tem direito a receberem as duas horas extras diárias de todos os dias durante o contrato de trabalho.
12. Adicional de Periculosidade/Insalubridade
Deve-se verificar se a atividade desenvolvida pelo trabalhador demanda o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade. Caso o trabalhador tenha direito e não tenha sido devidamente remunerado, pode acionar a Justiça do Trabalho.
13. Prescrição
Por fim, o trabalhador tem o período prescricional de 2 anos para mover Reclamação Trabalhista em caso de ter tido algum direito suprimido. Após isto, perde-se o direito de pleiteá-los.
Autor: Adriano Martins Pinheiro é advogado em SP, articulista e palestrante
Assuntos: Baixa na carteira, Demissão, Demissão sem justa causa, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direitos trabalhistas, FGTS, Horas extras, Justa causa, Rescisão, Trabalho, Valores Rescisórios